Aracaju, cheguei!!!
Aracaju (Caetano Veloso)
Céu todo Azul Chegar no Brasil por um atalho Aracaju, Terra cajueiro papagaio
Araçazu, Moqueca de cação no João do Alho
Aracaju Voltar ao Brasil por um atalho
Ser feliz O melhor lugar é ser feliz O melhor é ser feliz
Mas, onde estou Não importa tanto aonde vou
O melhor é ter amor Aracaju, Cajueiro arara cor de sangue
Nordeste-Sul, Aracaju
Ser feliz O melhor lugar é ser feliz O melhor é ser feliz
Onde estou, não importa tanto aonde vou
O melhor é ter amor
Quando em Aracaju cheguei, eu tinha 12 anos incompletos. Aracaju, cujo significado é cajueiro dos papagaios, sempre foi uma linda cidade litorânea, desde sempre tinha o seu charme e era um sonho sedutor. Eu vinha do alto da Serra da Borborema e de repente dei de cara com o mar. “Aracaju, o melhor é ser feliz”, já dizia a canção de Caetano Veloso. Que felicidade!
Cresci aqui e é aqui que pretendo envelhecer. No meu imaginário ainda tenho muito tempo. O sentimento é de que continuo uma menina. Desde sempre afirmo que esta cidade é absolutamente encantadora, tem um cheirinho provinciano, com um povo hospitaleiro e alegre e esbanja todo o charme de uma capital, inclusive pela sua ousadia urbanística, pois a cidade fundada em 1855, foi a segunda capital totalmente planejada e suas ruas possuem a forma de um grande tabuleiro de xadrez.
Quando lá atrás, crianças e adolescentes no final da tarde, ainda brincavam nas ruas, jogando bola, brincando de pega, de queimado ou de roda. Ainda brincava de bonecas e conhecia todas as cantigas infantis: “Escravos de Jó, jogavam caxangá, tira, bota, deixa o Zambelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá”.
Os jovens namoravam na porta, mas só quando o rapaz tinha sido ousado o suficiente para pedir autorização aos pais da mocinha. Os vizinhos ainda sentavam nas calçadas todas as noites para trocar uma prosa, controlar as crianças para que não se afastassem de uma linha imaginária de segurança e punham o rabo de olho nos namorados, que vigiados não podiam se exceder em afagos. Sem neuras. Sem medos. Todos se sentiam seguros em uma cidade abençoada e protegida pelo divino. Não havia nenhum sentimento de ameaça e não se falava em violência.
Estudava no Colégio Estadual Atheneu Sergipense, que tinha as suas vagas muito disputadas através do exame de admissão. Naquela época as escolas públicas tinham credibilidade. Tínhamos orgulho de dizer do nosso vínculo escolar. A escola gozava de prestigio.
Aos sábados, no início da tarde, o programa era encontrar os amigos na Praça do Mine Golf. Naquela esquina
havia o casarão dos Rolemberg, um antigo palacete do início do século XX de família tradicional sergipana Era uma imponente construção que eu tanto admirava e que hoje, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico, é a sede da OAB de Sergipe. O seu ar aristocrata era simbólico e uma mensagem cifrada de que apesar de progressista, a cidade tinha histórias e muita tradição familiar, e mais, que era imperioso reconhecer a lei do pai da qual não podíamos nos furtar. Os pais estavam ausentes daquele programa na Praça do Mine Golf, porém o casarão nos vigiava. Nada de badernas. Tínhamos que saber nos portar publicamente.
Outras tardes nossos pais permitiam que fôssemos ao Cine Pálace, no centro da cidade. Lembro da era das pornochanchadas, cujo humor, para os padrões atuais, era absolutamente inocente. Não lembro de na minha adolescência ter visto um fiscal ou ter sido sequer barrada na porta do cinema, cuja censura destas películas era para menores de 18 anos, porém com cenas mais inocentes do que a novela Malhação que é exibida na telinha às 18h.
Claro que nos deslocávamos pela cidade caminhando, inclusive em direção ao cinema. As distâncias permanecem as mesmas, mas hoje só saímos para percorrermos estes mesmos trajetos, se estivermos motorizados. Aliás não lembro de ônibus. Lembro das kombis como transporte público e elas paravam em qualquer parte do trajeto padrão, desde que acenássemos. Os adultos acenavam. Nós, os jovens, caminhávamos.
Saindo do cinema, ficávamos na praça Fausto Cardoso. Atrás de nós, um encantador coreto e mais atrás ainda, a linda Ponte do Imperador. Uma ponte esquisita, que não liga nada a nada, mas que pelo seu valor histórico, aquela espécie de atracadouro, construída para receber Dom Pedro II e a Família
Real, sempre foi ponto obrigatório para os que visitam a cidade.
Os boys, filhinhos de papai, estacionavam os seus carros em frente ao Palácio do Governo, de fachada neoclássica e com suas belíssimas sacadas. Como não admirar aquele prédio, hoje Palácio Museu Olímpio Campos, restaurado e bem conservado e que era a residência dos governadores até o final da década de 80? O museu guarda um acervo formado por seis mil peças que representam a rica cultura do Estado. Os seus cômodos são decorados com mobiliário do século 19 e pinturas de artistas italianos e, merecem destaque, as pinturas em porcelana que retratam cidades de Sergipe.
Aqueles jovens que se postavam diante da sede do governo estadual, não faziam manifestações sociopolíticas, mas tratava-se de um movimento curioso, senão “revolucionário”, intitulado “quem me quer”’. Era um verdadeiro desfile. Todos os rapazes com “calças boca de sino” encostavam-se aos carros e ficavam acompanhando com o olhar as meninas que saiam do cinema. As meninas fingiam não perceber os olhares, assovios e gracejos. Nos dias politicamente corretos e chatos que vivemos hoje, os meninos temeriam fazer qualquer manifestação, receosos que estariam de ser acusados de assédio. Já nós, na nossa maravilhosa e santa ingenuidade, adorávamos ser cortejadas. E ficávamos encantadas. Sonhávamos com aqueles cabeludos, sofríamos com amores platônicos e rolavam as paqueras.
Acho que o verbo paquerar sequer existe nos dias atuais e foi substituído pelo verbo ficar. Naquela época “ficar” já era namorar sério. Para acontecer o primeiro beijo, o clima era de muito romantismo e cheio de emoções elevadas ao limite máximo no corpo que era bombardeado por pura adrenalina:
o coração disparava, as mãos geladas e as pernas ficavam bambas.
Hoje o beijo se banalizou, beijam-se muitas bocas numa mesma noite, abraçam-se, relacionam-se sexualmente e depois de muito ficar, pode-se namorar, “ou não”, como diria Caetano Veloso. Aliás, o não, é muito mais frequente. As relações atualmente são fluidas e fugazes. Os jovens são volúveis e raramente apaixonam-se. E quando acreditam estar amando, na menor e primeira frustração, pedem “um tempo”. Outra expressão que acho estranho, pois sempre quero crer que “um tempo” implica em um prazo definido, mas a expressão significa uma despedida e um adeus, na grande maioria das vezes, sem volta.
Mas vamos voltar àqueles bons tempos lá no “quem me quer”. Quando começava cair a tardinha, e muito antes da escurecer, já era hora de voltar para casa, mas não antes de passarmos na sorveteria Cinelândia, ou na sorveteria Yara, exatamente atrás do Palácio do Governo, onde desfrutávamos do sorvete da fruta natural. Cedo estávamos de volta nas nossas casas. Os pais confiavam que seus filhos iriam e voltariam em segurança. Bons tempos.
Lembro-me que, algumas vezes e em finais de semana, papai nos punha no seu possante e minúsculo Gordini e passeávamos a esmo na cidade a título de vermos as novas construções e e chance de sonharmos com a casa própria. Era um programa adorável. Sonhar juntos nos fazia unidos. O programa tinha seu ponto máximo na Praça Olímpio Campos, onde tinha o Carrossel do Seu Tobias e o cachorro quente do Seu João. O cachorro quente era maravilhoso: pão francês e o recheio era de carne moída bem temperada. Às vezes meu pai, generosamente, permitia que repetíssemos. Sinto água na boca ao lembrar daquele maravilhoso manjar dos deuses. Hoje, no Museu da Gente Sergipana, lindo prédio construído nos anos 20 do século passado, totalmente restaurado, onde funcionava o Colégio Atheneu Dom Pedro II, conhecido como Atheneuzinho, na nobre avenida Ivo do Prado e que antes chamávamos simplesmente Rua da Frente, tenta reproduzir o cachorro quente do Seu João, mas aquele é inesquecível e seu sabor ficou perdido para sempre.
O Museu da Gente Sergipana, hoje, é uma visita obrigatória para quem quer conhecer Aracaju e a história de Sergipe com recursos interativos revelando o folclore, personagens ilustres, culinária e ecossistemas.
Não tardou e surgiram as festas de garagem. Eram as famosas festas americanas. Cada um levava um petisco e uma bebida. Os petiscos mais comuns eram chamados de sacanagem: palitos com queijo, às vezes salsicha, tomate e azeitona. A rica produção desses maravilhosos petiscos tinha o requinte de apresentá-los enfiados em um abacaxi. Show de bola! Quanto à bebida, geralmente era a Cuba Libre, uma mistura de Rum Montila com coca-cola, ou Hi-Fi, mistura de Crush ou Fanta com Rum e mais raramente com vodka, ou ainda as famosas “batidas”, mistura de cachaça com frutas e que tinham o creme de leite ou o leite condensado como ingredientes quase obrigatórios, com nomes pitorescos como “calcinha cor de rosa” ou “capeta”, entre outros que já não consigo lembrar. Detalhe, quando levávamos as batidas, o preparo tinha um ritual, algumas horas antes, em casa, sempre ao lado das amigas. O risco era nos exceder experimentando e não conseguirmos sair de casa.
As festas de garagem começavam em torno das sete da noite e era exatamente neste horário que meu pai ia me levar com a infeliz promessa de que às dez horas em “ponto” estaria na porta da festa para me levar de volta para casa. Às nove horas a festa estava bombando e esquentando, pois os pares facilmente se formavam e dançávamos de rosto colado ao som do Jackson Five: Music and me; Ben; I’ll Be There; Never Can Say Goodbye, entre outras músicas. Eu amava o caçulinha do grupo, o Michel Jackson. Bem, meu pai honrava britanicamente o compromisso e eu saía conforme combinado às dez, isso quando ele não falhava, ou seja, chegava mais cedo, ainda. Eu saía, sempre, francamente frustrada e zangada, pois tinha uma “melhor amiga” que ficava colada no meu paquera, a título de cuidar para que o meu par não se aproximasse de nenhuma outra menina. Eu fingia acreditar nos cuidados da amiga da onça e até recomendava. Fazer o quê? Preferia seguir o sábio conselho de Sun Tzu, “se não pode vencer o inimigo, alie-se a ele”, ou no caso, à suposta rival, dublê de amiga querida de infância. Sem celulares, sem mensagens, sem whatsapp, eu tinha que suportar a curiosidade e a ansiedade e esperar o dia seguinte, em um horário socialmente aceito (entre 9 e 19 horas conforme as boas normas sociais ensinadas pelos nossos pais), para ligar para a tal amiga que confessava, invariavelmente, ter dançado com o meu par até meia noite, hora de cinderela e final da festa.
Eventualmente meu pai permitia que no final da tarde de domingo fossemos a uma boite no Iate Clube de Aracaju, a Saveiros, espaço minúsculo de muita paquera, reservado para adolescentes. Eu me sentia poderosa quando frequentava este espaço que era francamente elitizado. As mocinhas que estudavam no Colégio Salvador, Ginásio de Aplicação e Arquidiocesano, escolas tradicionais de Aracaju, ficavam em pequenos grupos e nos ignoravam. Eram consideradas de outra espécie, ou nós, para elas, éramos de outro planeta e elas não se misturavam com as alunas do colégio Atheneu.
Eu era muito tímida e não conseguia chegar muito perto das mocinhas de famílias abastadas e tradicionais de Aracaju. Comecei amizade com algumas poucas delas, muito queridas, quando saí do Atheneu e fui estudar no Salesiano, dois anos antes do vestibular, o que parecia, para mim, uma evolução e até símbolo de uma falsa ascensão social.
Em alguns domingos, pela manhã, o programa era só com a nossa minúscula família: nossos pais, a minha irmã caçula e eu. Íamos comer caranguejo no Bar Vaqueiro ou no Bar Corno Velho, na praia de Atalaia. A faixa de areia era muito mais estreita que a dos dias atuais. Águas invariavelmente mornas e dias sempre ensolarados. Era uma farra. Pedíamos várias dúzias daquele maravilhoso crustáceo. Hoje o preço é tão proibitivo, que pedimos apenas dois ou três por pessoa, no máximo e fingimos que já estamos satisfeitos. A cidade cresceu e a orla se organizou e surgiu a Passarela do Caranguejo, com múltiplos bares e restaurantes, alegria de nativos e turistas onde servem o melhor da cozinha regional – frutos do mar, carne-de-sol, pirão-de-leite e, claro, o caranguejo.
Ao longo da praia de Atalaia, os namorados, nos dias atuais, tem um belo calçadão, dois lindos lagos arborizados no seu entorno, com fontes luminosas, ciclovias, quadras poliesportivas e um belo Oceanário, cuja edificação tem a forma de uma tartaruga marinha e apresenta sessenta espécies, espalhados em dezoito aquários de águas doce e salgada. A canção “Cheiro de Terra” de Chiko Queiroga e de Antônio Rogério, faz todo o sentido: “Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar”.
Toda a extensão da praia levava um único nome, Atalaia. A capital sergipana nunca teve as praias mais badaladas do Nordeste, entretanto Atalaia, desde sempre, é um charme com os seus seis quilômetros de extensão e é o principal cartão-postal da orla de Aracaju, com lindas passarelas de madeira unindo o belo calçadão com os quiosques na beira do mar. Nos anos dourados, tinha o metro quadrado de areia bem disputado por jovens com seus biquínis comportados ou maiô engana-mamãe (era um duas- peças grudadas nas laterais por uma faixa fininha).
Levávamos para a praia, a esteira de palhinha, a canga e a toalha e nos posicionávamos languidamente sob o sol, sem nenhuma proteção, sem sombreiros (reservado apenas para as crianças) e sem os protetores solares, obrigatórios nos dias atuais. Pelo contrário, usávamos bronzeadores, o Rayto de Sol, era o mais popular, ou passávamos Coca-Cola, pois existia a informação recorrente que o refrigerante ajudava a queimar mais ainda e oferecer o tal bronzeado tão desejado. Gostávamos de exibir as marquinhas do sol, pois elas despertavam interesse e aguçavam a curiosidade dos rapazes, quando não sofríamos queimaduras indesejáveis e com consequências desagradáveis.
Mas o que eu nunca confessei aos meus pais é que, não raro, íamos para a praia de “bigú” com desconhecidos. A expressão bigú significava no Nordeste, viajar de carona. Era prática recorrente, em frente ao Iate clube, os jovens pedirem carona para a praia. Bastava fechar o punho com o polegar estendido para trás, que estava dado o sinal de um pedido de carona. E eu e as minhas amigas nunca fomos mal interpretadas ou assediadas pelos motoristas, homens e mulheres, que também se expunham, por sua vez, dando aquelas caronas na Avenida Beira Mar.
Nunca entendi bem a razão do nome Beira Mar, afinal naquele ponto temos o Rio Sergipe e tão pouco não entendia o nome do bairro, Praia13 de julho, pois não alcancei banhos que diziam as pessoas tomarem naquela suposta prainha de rio. Hoje, estas águas são completamente contaminadas e impróprias para o uso, porém o calçadão está urbanizado e é lá que as pessoas se exercitam fazendo suas caminhadas.
Como boa e comportada menina, ia à igreja, não sempre, mas eventualmente, ora na Catedral Arquidiocesana Nossa Senhora da Conceição, construção de quase 200 anos de história, com elementos neoclássicos e góticos, ora na Paróquia São José, construção mais simples, porém de belo visual arquitetônico, na Praça Tobias Barreto, perto de um colégio tradicional de freiras, o São José, que fica localizado diametralmente oposto ao Instituto Médico Legal, edificação também muito antiga. Os padres não nos conquistavam e as missas eram muito chatas. Hoje os padres perceberam que tem que modernizar o discurso e as homilias passaram a ser mais envolventes e inteligentes, e as canções tem uma sonoridade e apelo que nos envolvem.
Inesquecíveis eram as férias que passávamos na casinha que tínhamos na Atalaia Nova, um espaço na ponta da ilha, entre o rio e o mar. Era um lugar simples e sem muito conforto, arrodeado de varandas, cheias de redes. Aquele local era considerado o refúgio dos surfistas, porquanto as altas ondas e dos pescadores. Era mais comum que chamássemos, a ilha de Santa Luzia, simplesmente de Barra dos Coqueiros, pois a travessia nos deixava naquela faixa com as plantações dos frutos que ensejavam o seu nome.
Hoje a Atalaia Nova é um local cobiçado, com o metro quadrado valorizado, cheia de condomínios com belas mansões, resort e bares muito bem frequentados. Naquela ocasião era quase uma aldeia, com casas muito simples, ruas sem pavimentação com crianças correndo para lá e para cá, sem riscos de acidentes, uma vez que as carroças eram o meio de transporte usual.
Daquele ponto do nosso desembarque na ilha, até a Atalaia Nova, era uma grande caminhada. Como levávamos água potável (a casa tinha um poço artesiano com uma água ferruginosa) e mantimentos para a temporada, sempre precisávamos contratar uma daquelas carroças que ajudava no transporte, atravessando o pequeno vilarejo dos nativos. Naqueles períodos tínhamos como convidadas as amigas mais próximas que eram colegas de escola e que dormiam conosco na casinha da Atalaia Nova, e os rapazes, os amigos e paqueras iam passar o dia nos fazendo companhia.
Íamos, para aquele paraíso, de barquinho, o famoso “tototó”. O nome era uma alusão ao barulho que o motor da rústica embarcação fazia. Não lembro de boias, não lembro de salva-vidas e nem lembro de fiscalizações da Capitania dos Portos de Sergipe, que impedisse que alguns passageiros ficassem em pé na travessia, porquanto a superlotação. Deus sempre estava no comando. Todos protegidos.
Uma vez feita a travessia, contemplar a cidade de Aracaju à distância, enchia os olhos, e se fosse à tardinha, no nosso retorno, o pôr do sol nos inebriava. Do outro lado da margem do Rio Sergipe, víamos, com destaque, o nosso único espigão de 28 andares, um edifício de arquitetura moderna, construído nos anos 70 do século passado, para ser a sede do Banco do Estado de Sergipe, e que era conhecido pelo nome Maria Feliciana, pois aqui morava a mulher que considerávamos a mais alta do país, senão do mundo, e que atendia por este nome. Era comentário geral que o Governador da época, Lourival Batista, havia construído aquele prédio para do alto enxergar sua cidade natal, a linda e vizinha antiga capital de Sergipe, São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do país, que preserva verdadeiras joias arquitetônicas barrocas dos séculos 17 e 18 e é sede de um grande e prestigiado Festival de Artes.
Em Aracaju, também se destacavam na Praça General Valadão, o Palácio Serigy construído nos anos 30 da Era Vargas e onde funcionava as Secretarias de Saúde e Agricultura e também, o prédio da antiga alfândega onde funcionou a Receita Federal e que foi o local escolhido para a realização do grande baile de recepção ao imperador Dom Pedro II quando ele aqui nos visitou.
Naquela mesma praça ficava o Hotel Pálace de Aracaju, o mais moderno e luxuoso hotel, construído nos anos 60, palco de encontros políticos e festas da sociedade e que abrigava no seu último andar um requintado restaurante, que chegamos a frequentar, muitos anos depois, nos almoços dominicais familiares e cujo prato mais solicitado era um filet à cavalo, servido com batatas fritas, sempre ao ponto, com um ovo frito em cima. Os amantes da boa gastronomia certamente não aprovariam aquele prato tão simples e delicioso em cardápio de hotel de luxo, mas era perfeito para “crianças e adolescentes ruins de boca”.
A construção daquele Hotel que coincidiu com a chegada da Petrobrás foram divisores de água para a pequena e charmosa capital, revelando desenvolvimento e transformando a paisagem urbanística da cidade.
Fechando este ciclo de lembranças, vêm as bandeirolas, as fogueiras, os fogos de artificio e o mais gostoso, as comidas típicas. Lembro que quando morávamos na Praça Assis Chateaubriand, no bairro São José, organizávamos as famosas quadrilhas e fechávamos, decorando, um dos lados da pracinha. Todos os jovens colaboravam com a tarefa, e nos empenhávamos para o sucesso da festa. O detalhe é que não precisávamos de autorização do Detran, nem da SMTT, só dos nossos pais, estes sim, verdadeiras autoridades e que eram os donos da rua. Os pais davam suporte, pois era uma forma de nos controlar e impedir que fôssemos para o Bairro Santo Antônio, berço da cidade de Aracaju que nasceu naquela colina e que do alto, toda a cidade se pode enxergar.
Hoje o forró se espalha pela cidade, desde o Forró Caju no mercado central, com a sua cidade cenográfica montada na Praça dos Eventos e as suas animadas quadrilhas ao som das sanfonas, zabumbas e triângulos, até o Arraial do Povo na orla de Atalaia com atrações diárias no período junino. E para fechar os folguedos, ainda tem a ressaca do São João na Rua de Siriri, no centro da cidade conhecida pelo seu tradicional forró há mais de 50 anos.
Aracaju, o melhor lugar do mundo para ser feliz.
Para a leitura completa do Livro. Clique aqui!
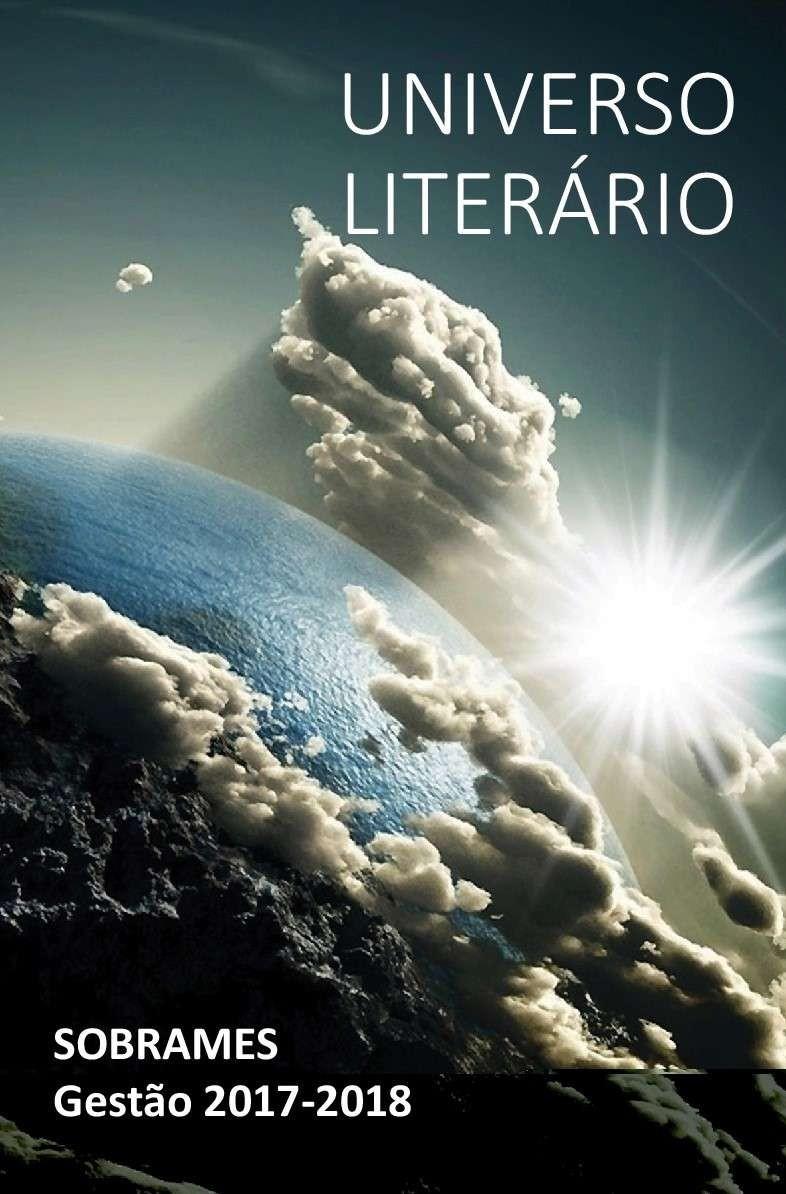








4 comentários em “Doces lembranças da minha adolescência em Aracaju”
Boa tarde querida, te admiro muito e sei o quanto é uma pessoa carismática muito dedicada e ética. Idealizou e fundou a Escola especializada Erwin Mongenroth do SESI em salvador, participei como terapeuta ocupacional onde pudemos desenvolver atividades educacionais e terapêuticas direcionadas às pessoas com necessidades especiais. Agradeço por participar desse projeto que foi real. Parabéns por tudo. Gosto muito de Aracaju e até me deu vontade de morar lá . Muito lindo e acolhedor. Felicidades ?❤️
Adorei. Uma retrospectiva maravilhosa. Nos leva aos memoráveis anos 70.
Só uma falha: “Cheiro da Terra “ é música do Claudio Miguel do grupo “Cataluzes”.
Cantada também por Chico Quiroga e Antônio Rogério, claro…!!!
Belíssimo texto !! Parabéns ????????
Parabéns!! Parece que eu estava revivendo alguns momentos inesquecíveis da minha juventude. Abraço.